Foto: Divulgação
POR – CARLOS PRIMO BRAGA
Existem várias interpretações sobre o significado do termo “Ordem Global”. Em essência, o termo reflete o conjunto de regras e normas que influenciam as relações internacionais, como os países interagem e como a distribuição de poder entre nações é estruturada. Exemplos de diferentes encarnações desse conceito incluem a Paz de Westphalia (1648), após a Guerra dos 30 Anos na Europa, com sua ênfase nos princípios de soberania nacional e não-interferência e a abordagem do multilateralismo no pós-Segunda Guerra Mundial.
Leia e assista também: greenTalks entrevista Carlos Primo Braga, professor associado da Fundação Dom Cabral
Leia também: Trabalho decente e crescimento econômico: o que falta para o Brasil avançar?
O multilateralismo evoluiu como uma plataforma para a governança global, conectando governos, agências e instituições multilaterais (tais como a ONU, FMI, Banco Mundial, Organização Mundial de Comércio…) e sociedade civil com o objetivo de coordenar ações para o enfrentamento de desafios globais. Tais desafios incluem evitar conflitos entre as grandes potências militares, promover prosperidade econômica e regras estáveis para a interação econômica, evitar agressões internacionais e desrespeito aos direitos humanos e como facilitar a oferta de bens públicos globais (por exemplo, combate a pandemias e às mudanças climáticas).
Críticas ao multilateralismo não são uma novidade. O modelo sempre foi criticado por ser um modelo de dominância onde um seleto grupo de potências econômicas e militares ocupa o topo da estrutura de governança, enquanto os demais países participam, mas com influência limitada. A ascensão econômica de países como a China, Índia e Brasil vem contribuindo para o reconhecimento de que a economia global é cada vez mais multipolar. Além disso, é evidente que vários dos desafios globais exigem cooperação multilateral.
A questão das mudanças climáticas e suas externalidades é um exemplo nesse contexto. É primordial que os principais responsáveis pelas emissões de gases de efeito estufa (greenhouse gases, GHGs) que são a China, os EUA e a Índia, e os países onde as florestas tropicais estão localizadas (o Brasil concentra cerca de um terço das florestas tropicais remanescentes) atuem de forma efetiva no combate às mudanças climáticas. Caso isso não ocorra, os objetivos enunciados no contexto do Acordo de Paris (2015) permanecerão desconectados da realidade.
O objetivo de controlar nas próximas décadas o aumento da temperatura global a um limite de 1,5 graus centígrados acima dos níveis que prevaleciam no período 1850-1900, por exemplo, vem se tornando cada vez mais difícil de ser alcançado. Cabe assinalar que a temperatura média global no período 7/2023 – 6/2024 atingiu ou excedeu esse limite consistentemente1.
Os desafios se tornaram ainda mais dramáticos com o posicionamento da nova administração Trump com respeito a soluções multilaterais. Mais uma vez, os EUA decidiram abandonar o Acordo de Paris. A Ordem Executiva nesse sentido foi emitida no primeiro dia da nova administração (20/01/2025) e repete a decisão anteriormente adotada em 2017 na primeira administração Trump, que havia sido rescindida pela administração Biden.
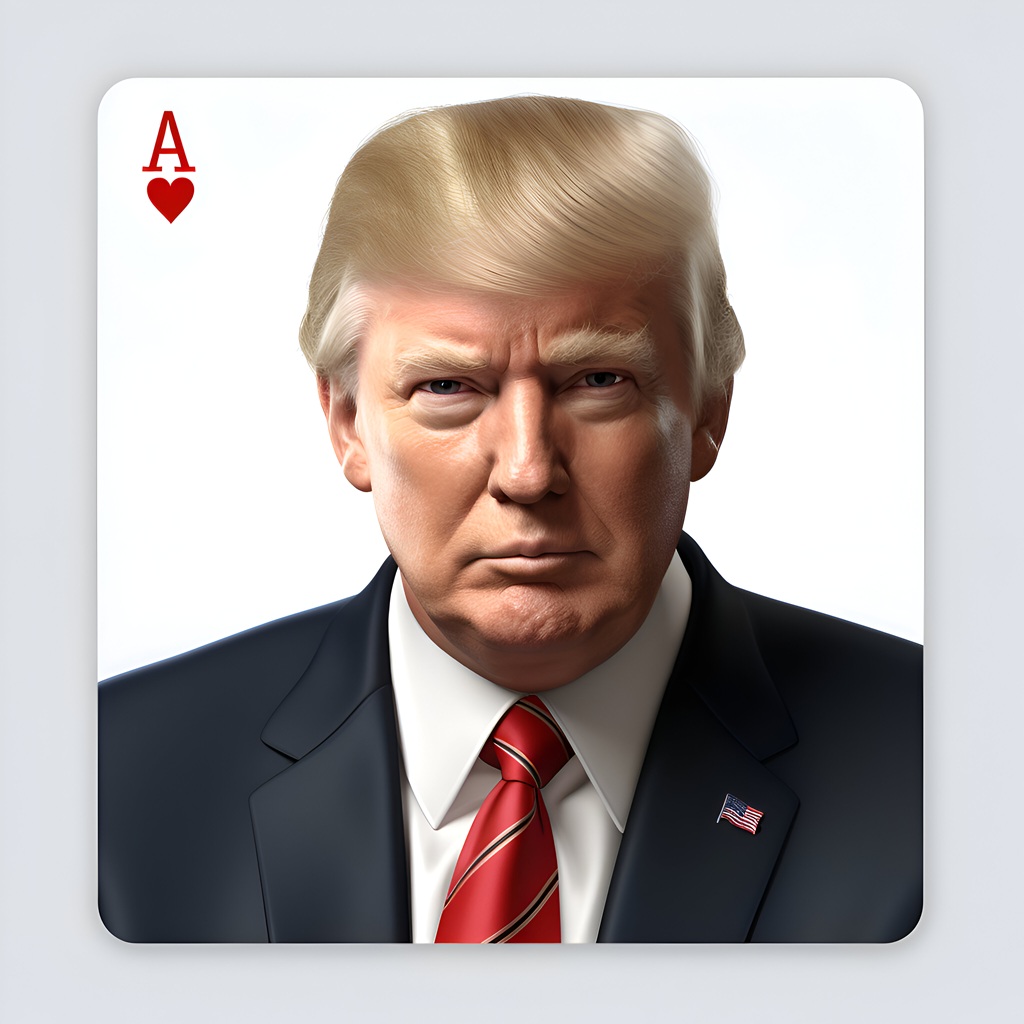
Os argumentos utilizados para justificar tal decisão incluem as proposições de que o Acordo de Paris imporia um gravame excessivo sobre a economia dos EUA, seria ineficiente no combate às mudanças climáticas, tratava de forma injusta os EUA por impor restrições mais significativas do que aquelas impostas a países como a China e a Índia, e afetaria a soberania nacional. Cabe assinalar que tais interpretações são consistentes com uma visão de mundo que rejeita o multilateralismo seja no que diz respeito ao comércio internacional seja no contexto de alianças militares.2 Os EUA, uma vez que o processo de retirada do acordo seja concluso (um ano após a notificação), irão se juntar a um “seleto” grupo de países (Irã, Libia e Iêmen) que não são signatários do Acordo de Paris. Os EUA, porém, permanecem como membros da Convenção da ONU sobre Mudança Climática (U.N. Framework Convention on Climate Change, UNFCCC), ratificada pelo Senado norte-americano na década de 1990.
Nesse contexto, o país deve participar na Conferência do Clima das Nações Unidas (Conference of the Parties, COP 30) em Belém em novembro deste ano.
Dado o negacionismo climático da administração Trump e o desdém do Presidente por soluções multilaterais, a participação dos EUA na COP 30 dificilmente irá facilitar o progresso da agenda de combate às mudanças climáticas. Medidas já anunciadas pelos EUA incluem a suspensão de doações para o Fundo Verde para o Clima (Green Climate Fund, GCF) que tem como objetivo facilitar o acesso ao financiamento para projetos em países em desenvolvimento, com foco nos países mais vulneráveis. A desestruturação dos programas de assistência internacional da USAID está também impactando projetos de combate às mudanças climáticas financiados pela agência.
A “liderança” negativa dos EUA irá dificultar discussões sobre financiamento multilateral para projetos de adaptação e mitigação dos efeitos da crise climática. Ainda assim, o Brasil poderá contribuir para discussões produtivas sobre temas como transição energética, cooperação regional, agricultura de baixo carbono e mercados de carbono, muito embora a decisão recente de aderir à OPEP+ não favoreça a imagem do Brasil como líder na luta contra mudanças climáticas.
Resgatar a credibilidade da agenda da UNFCCC não será uma tarefa fácil no ambiente geopolítico atual. As tensões que os EUA vêm alimentando com suas ameaças de uma política de reciprocidade no comércio internacional, porém, podem favorecer a implementação do acordo de cooperação econômica e comércio entre os países do Mercosul e a União Europeia (UE). Na Europa, o reconhecimento que a UE, os seus estados membros e o Reino Unido precisam atuar de forma coordenada para enfrentar o protecionismo e o negacionismo climático da administração Trump favorece novas alianças.
Em um ambiente de colapso potencial do multilateralismo e de ascendência da “lei da selva” como determinante das relações internacionais, a “COP da floresta” pode se tornar um marco de resistência e base para alianças plurilaterais, em um esforço de construção de uma nova ordem global. O desafio é enorme e o fracasso desses esforços pode ter implicações dramáticas para o futuro do planeta.
1 Veja Why do we keep talking about 1.5°C and 2°C above the pre-industrial era? | Copernicus.
2 Para mais detalhes veja O “Novo Consenso de Washington” (por Carlos Primo Braga) – Brasil Confidencial.
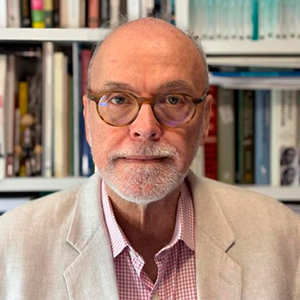
Carlos A. Primo Braga é atualmente Professor Associado da Fundação Dom Cabral, Brasil. Ele é também Professor Visitante do El Colégio de México. No período 2012-15, ele foi professor de Economia Política Internacional no IMD e Diretor do Evian Group@IMD, Suíça. Anteriormente como funcionário do Banco Mundial (1991-2012), atuou como Representante Especial e Diretor para a Europa, Relações Externas (2011-12); Diretor, Política Econômica e Dívida (2008-2010); Vice-Presidente e Secretário Corporativo Interino do Grupo Banco Mundial (2010); Secretário Executivo Interino do Comitê de Desenvolvimento do FMI/Banco Mundial (2010); e Administrador do programa infoDev (1997-2001). Foi também “Fulbright Scholar” (1988-89) e professor visitante (1988-98) na Paul Nitze School of Advanced International Studies, The Johns Hopkins University; Professor Assistente de Economia, FEA/USP (1984-91); e pesquisador senior da FIPE, São Paulo. Ele tem títulos de Ph.D., Economia, University of Illinois at Urbana-Champaign (1984), Mestrado, Economia, USP (1980), e Engenharia Mecânica, ITA (1976).


